Em uma era em que as pessoas morrem de preguiça de ler e bufam ao ver um “textão” passando pela timeline, vejo cada vez menos sites e blogs falando sobre música de verdade. O que temos é uma pilha de releases, fotos e vídeos que mais parecem assessoria de imprensa do que qualquer outra coisa. É função do jornalismo cultural divulgar bons artistas? Sim. Mas que falta faz uma boa reflexão sobre música e arte, textos mais profundos e até mesmo uma divulgação mais rica desses bons artistas. Que falta faz opinião, uma entrevista diferente, artistas falando o que realmente pensam, aquilo que faz o olho brilhar, que inspira. Além da era da preguiça de ler e de debater, vivemos a era do streaming e dos singles. Mais uma vez a indústria musical se reinventa, assim como se reinventa o nosso jeito de ouvir, descobrir e consumir música. Mas calma, calma, não criemos pânico. Afinal, a música nunca vai acabar.

Foto: Update or Die!
E foi esse o mote do primeiro Spotify Talks, projeto incrível que reúne gente boa para falar sobre música, debater, refletir, questionar. A primeira edição, que rolou ontem no escritório do Spotify no Brasil, tinha como tema “O contraponto do mainstream”. Os músicos convidados foram Céu, Emicida, Mahmundi e Lucas Santtana; e a mediação foi feita pelo jornalista Alexandre Matias – dono do genial Trabalho Sujo, que começou impresso e se tornou um dos primeiros sites dedicados à música e ao jornalismo cultural no Brasil, em atividade desde os anos 90 – e hoje uma grande referência.
Com essa banca da pesada, não tinha como o papo dar errado. Tive a honra de poder acompanhar a conversa in loco e o encontro rendeu…várias pérolas e histórias boas. Lucas Santtana (atenção: não confundir com Luan Santana!) é um baita artista (muito underrated, aliás…OUÇAM) que começou na era do analógico e das grandes gravadoras controlando geral, viu a chegada do Pro Tools e da internet e passou por todas as mudanças da indústria. A Céu começou em 2005, quando todo mundo passou a baixar MP3, o Myspace bombava e se dizia que a indústria musical ia morrer. Emicida veio logo em seguida e explodiu como rapper depois de seus vídeos em batalhas de MCs bombarem no Youtube, vendendo CDs baratinhos que ele mesmo fazia à mão em casa. E Mahmundi é a mais contemporânea e jovem deles, começou sua carreira musical já online, surfou na onda do hype e conta que lançar um disco físico é, hoje em dia, um luxo.
Confira abaixo alguns dos depoimentos mais bacanas dessa primeira edição do Spotify Talks e, enquanto lê, que tal ouvir esses quatro artistas incríveis? Dá o play! 😉
“Em 2006 eu tinha um blog porque sentia que só com a música e a letra eu não conseguia falar tudo que eu queria. Foi uma forma de me aproximar do público, de dialogar. Também fez crescer minha base de fãs. Eu coloquei no meu blog o áudio separado das minhas músicas para download. Era possível baixar só a bateria, só a guitarra etc. Aí as pessoas podiam remixar e fazer a versão delas da música. Depois, eu postava esses remixes.” – Lucas Santtana
“Comecei trabalhando no Circo Voador como técnica de som, montando show. Aliás, fiz show de todos esses senhores aqui (Céu, Emicida e Lucas Santtana). Em 2010, montei um DVD da Pitty e pensei: ‘tá bom de montar show pros outros, né? Agora quero fazer o meu’. Eu queria produzir. Gravava em casa com amigos, gente da minha idade, em uma placa de 2 canais. Subi as músicas no SoundCloud e de repente a ‘Calor de Amor’ ficou hype o suficiente para chamar a atenção das pessoas.” – Mahmundi
“Minha geração tem uma legião de artistas talentosos pra caramba, mas sem ambição mercadológica nenhuma. Só que desde o começo entendi que, se eu me envolvesse com a bilheteria, com o business, era uma forma de cuidar melhor da minha arte. A gente precisa se organizar para ser dono das coisas que a gente cria.” – Emicida
“Quando comecei minha carreira, em 2005, era uma época muito nebulosa para a música. Parecia que a música já não valia mais nada. Os contratos das gravadoras eram esquisitos e engessados…então desde o primeiro disco eu decidi ser independente. Hoje, tenho contrato com uma gravadora.” – Céu
“Na época das batalhas eu nem tinha computador em casa. Chegou um amigo meu e falou que eu tinha um milhão de views no YouTube. E eu: ‘e daí, mano?’. Só depois fui me ligar no poder da informação e aí pra divulgar o show a gente colocava no flyer assim: ‘rapper que já conquistou 1 milhão de views no site de vídeos YouTube’. Na época a gente ainda tinha que explicar que o YouTube era um ‘site de vídeos’ (risos)! Aí lotamos uma festa com 300 pessoas e começamos a vender os CDs que a gente fazia à mão em casa. No começo, custavam R$ 3,00. Aí eu pensei: vou vender por R$ 2,00, facilitar o troco. Deu certo, vendeu mais. Vendia CD no trem, andava atrás das pessoas fazendo freestyle, fazia as capinhas de papel craft com carimbo.” – Emicida
“No começo da minha carreira eu não tinha empresário, então criei o ‘João Fortes’. Ele tinha e-mail e vendia meus shows. Mas na hora de falar no telefone deu problema (risos). Eu devia ter inventado uma empresária e colocar minha esposa pra atender o telefone.” – Lucas Santtana
“Eu também não tinha empresário e inventei o ‘Leandro’ para ser meu assessor e vender meu show. Eu até fazia uma voz diferente no telefone. O jornalista Mateus Potumati, da Revista Soma, foi o único que me desvendou. A gente tinha combinado de se encontrar numa estação de metrô para uma entrevista e 5 minutos antes ele ligou pro ‘Leandro’ para saber se ele também ia. Tentei disfarçar, mas cheguei no metrô rindo sem parar e me entreguei.” – Emicida
“Engraçado que, quando um artista faz sucesso lá fora, recebe mais atenção aqui no Brasil. Comigo foi assim. Isso acontece mesmo.” – Céu
 “Eu lembro que meus amigos eram todos punks e estavam felizes porque as gravadoras estavam falindo. Mas, o que o mercado formal perdeu, o artista independente não ganhou. A gente cresceu vendo Leandro e Leonardo ganharem disco de ouro na televisão e, quando chegou a nossa vez, putz…as pessoas não compram mais CD nem ingresso.” – Emicida
“Eu lembro que meus amigos eram todos punks e estavam felizes porque as gravadoras estavam falindo. Mas, o que o mercado formal perdeu, o artista independente não ganhou. A gente cresceu vendo Leandro e Leonardo ganharem disco de ouro na televisão e, quando chegou a nossa vez, putz…as pessoas não compram mais CD nem ingresso.” – Emicida
“Minha ideia sempre foi criar um mercado novo. Eu ganhei o Prêmio Multishow com um single 100% caseiro e independente! Quando a gente é mais novo, pensa: ‘ai, não vou me vender’. Mas depois trabalhei com várias marcas. Quis me vender mesmo, porque queria que a minha arte chegasse mais longe. Para mim foi uma vitória produzir meu disco e trabalhar com gente da minha idade, nova no mercado.” – Mahmundi
“Meu próximo disco vai se chamar ‘Modo Avião’ porque eu sinto essa necessidade de me desligar. Sou muito ativo na internet, gosto de postar no Twitter e no Instagram, mas o Facebook já virou deprê e percebi que quando acordo, meu celular é meu despertador e antes mesmo de tomar café eu já leio todos os e-mails, mensagens, WhatsApp…porra, eu nem tomei café ainda, sabe? Isso me deixa acelerado. Quero lançar o disco junto com uma instalação de uma artista plástica – não posso contar quem é ainda – e vamos ter um local de suspensão para as pessoas ouvirem o disco ali e terem uma experiência diferente, se desligarem e prestarem atenção na música. Vai ser uma experiência mais humana.” – Lucas Santtana
“Eu tô muito otimista com o caminho que a música vem tomando. E também bem feliz de participar deste momento, entender que é um mercado que é possível, que posso produzir meus discos.” – Mahmundi
“Também me sinto otimista. Hoje a gente tem ferramentas e múltiplas oportunidades. Ainda mais no Brasil, que é um país tão fértil e criativo. A música não tem como acabar.” – Céu
“Acredito que a música e a arte brasileiras têm um papel importante em trazer otimismo nesse momento tão sinistro que estamos vivendo no país. A arte funciona como um oásis no meio disso tudo.” – Emicida.
“Teve um tempo em que eu peguei bode de escutar música, preferi ficar em silêncio lendo, devorei vários livros. Mas aí com o Spotify tem as descobertas da semana, que pra mim foi uma ferramenta super interessante para conhecer coisas novas!” – Lucas Santtana.
“Eu gosto muito de ver os ‘artistas relacionados’ nas plataformas de internet. Sempre acertam, descubro muita coisa boa.” – Céu
“Eu já gosto de pesquisar no sebo mesmo. Acho muitos discos e descubro muitos artistas assim.” – Emicida.
E você? O que acha que vai ser da música daqui pra frente? Será que os artistas independentes e alternativos podem transitar pelo mainstream? Como você descobre novos artistas e como você consome música hoje? O Spotify Talks vai continuar com mais temas e conversas. Já estamos ansiosos pelos próximos insights! Vamos falar sobre música?


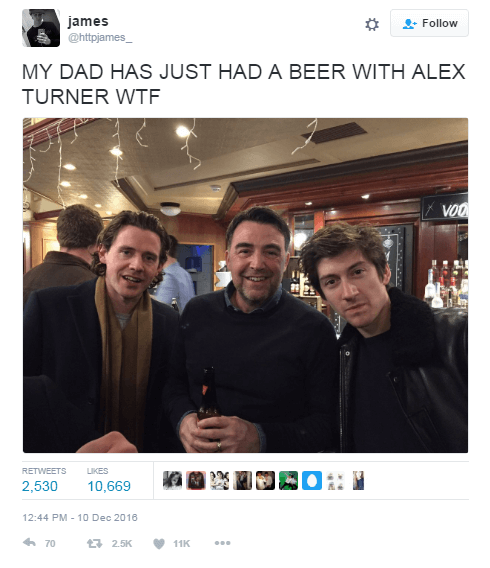







 Eles também aparecem em uma comunidade africana e usam narizes de palhaço – uma marca da Comic Relief, que inclusive promove o
Eles também aparecem em uma comunidade africana e usam narizes de palhaço – uma marca da Comic Relief, que inclusive promove o 
 O Pretty Reckless foi montado em 2009, quando a Taylor tinha só 16 anos e estava cansada de atuar. Ela começou como modelo e atriz aos 2 anos de idade. Além de ter participado de Gossip Girl, ela aparece no filme “O Grinch”, em um monte de comercial dos EUA e quase foi a protagonista da série Hannah Montana, da Disney (justamente porque sabia cantar). Mas perdeu o papel nas seletivas finais pra Miley Cirus (!).
O Pretty Reckless foi montado em 2009, quando a Taylor tinha só 16 anos e estava cansada de atuar. Ela começou como modelo e atriz aos 2 anos de idade. Além de ter participado de Gossip Girl, ela aparece no filme “O Grinch”, em um monte de comercial dos EUA e quase foi a protagonista da série Hannah Montana, da Disney (justamente porque sabia cantar). Mas perdeu o papel nas seletivas finais pra Miley Cirus (!).







